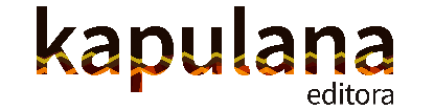Nós, os do Makulusu – a palavra e o outro, por Rita Chaves
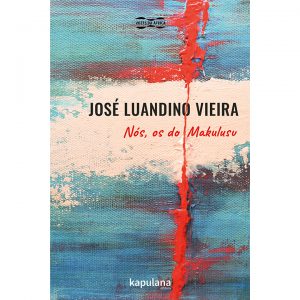
De 1967, ano em que José Luandino Vieira escreveu essa extraordinária narrativa até o presente, muitos abalos têm sacudido Angola: o país conquistou sua independência em 1975, os conflitos armados se sucederam, em 2002 um acordo de paz foi assinado, a república tem agora o seu terceiro presidente, o projeto socialista foi abandonado, novos escritores fortaleceram o processo de formação da ficção angolana, outras formas de arte ganharam energia… A natureza e a intensidade de tantas mudanças nos levam certamente a levantar questões sobre a validade de uma nova edição no Brasil desta obra escrita no calor de uma hora tão particular na história do país e não só. Podemos começar por recordar, nesse sentido, que na década de 1960 o mundo à nossa volta vivia sob a luz de muitas utopias e olhava, com algum entusiasmo, as lutas de libertação que prometiam mais que a vitória sobre o colonialismo português e sua insistência em se prolongar na África. Mesmo no Brasil, imprensado sob mais um período ditatorial, havia réstias de esperança na resistência e na possibilidade de superar a truculência dos coturnos. Certamente pela primeira vez, do continente africano sempre visto como um espaço à parte no contexto mundial, alguns territórios emergem como focos de luz em um planeta que parecia sacudido por ideais de justiça e igualdade social.
Após quase meio século e as mudanças que ficaram a meio caminho do sonho, somos levados a pensar no significado de uma obra que nos fala da luta anticolonial e, sob o selo de uma inequívoca escolha ideológica, traz-nos as marcas de um pertencimento a um lado da cidade dividida tão bem descrita por Frantz Fanon em seus agudos tratados sobre o colonialismo. Como explicar a capacidade que a obra revela de se manter atual em um momento tão diverso daquele em que nasceu? Para nos aproximarmos da complexidade desses tempos (daquele passado e do nosso presente), e para examinarmos as relações da literatura com a experiência histórica que a linguagem de Luandino trabalha com maestria, é que podemos percorrer com um atormentado narrador as ruas e becos de uma cidade que é bem mais que uma paisagem, que é simultaneamente um espaço e um tempo, uma espécie de quadro vivo que, nas sensações que evoca, nos traz a dor e a perplexidade de uma geração.
Quando se fala de Angola e de seu caminho em direção ao fim do colonialismo, o conceito de geração se alarga. Não se trata de um grupo definido pela faixa etária, mas pelo compromisso com um projeto, o da libertação nacional. Desde o fim dos anos de 1940, o sonho de um país livre juntou angolanos de várias idades, raças e classes, empenhados na conquista da libertação política e social, entre os quais podemos identificar aqueles que, percebendo a escrita como uma arena, procuraram fazer da literatura mais um instrumento para a transformação. Aí encontramos José Luandino Vieira, um escritor cidadão movido desde cedo pelo compromisso de associar ao sentido ético de sua luta a dimensão estética de seus textos. Seu pacto, sempre e a um só tempo, com a ordem que desejava e com a beleza em seu sentido maior, manifesta-se nesse exercício de dupla lealdade a que ele devota seu trabalho e seu talento.
O primeiro título, A cidade e a infância, já apontava o caminho de dois temas caríssimos que serão visitados a partir de várias perspectivas, todas elas guardando a marca da complexidade que ele soube ver nas situações que aborda. Nesse conjunto de contos, uma funda familiaridade dos narradores com os espaços em que se armam os enredos, aponta para a sua capacidade de circular por áreas da cidade que permaneciam à margem e mantinham uma certa impermeabilidade à lógica imposta, a despeito das incursões nada amigáveis da violência policial, único braço do estado a se manifestar com frequência na cidade do colonizado. Poucos anos depois, em A vida verdadeira de Domingos Xavier e, principalmente, Luuanda, o processo de escrita de Luandino seria redimensionado na opção pela ruptura operada no domínio da linguagem. Será, todavia, nesse fabuloso Nós, os do Makulusu, escrito na aridez do Tarrafal (o terrível campo de concentração localizado em Cabo Verde, onde estavam presos nacionalistas que tinham ousado desafiar a opressão colonial), que as tintas da radicalidade darão nota ao projeto literário que, acompanhando as voltas e reviravoltas de Angola e do mundo, continua em curso. A condição do autor, detido e condenado a tantas formas de sujeição, torna ainda mais surpreendente o resultado de uma obra que renuncia à tentação do maniqueísmo e traz para o debate a humanização do inimigo. Não se trata de reduzir a tensão ou relativizar a dimensão do mal, mas de buscar uma reflexão mais densa sobre os embates que a História plantou naquele solo.
A morte, de que o tiro que dá início à narrativa é uma pungente metonímia, enraíza o problema da diferença de posições e dimensiona o drama, mas não dilui a necessidade de se ter em conta o lugar do angolano – esse outro invisível na sociedade colonial e na literatura produzida na metrópole, em cujas páginas ele não passaria de um elemento do cenário, como podemos observar em tantos títulos. Essa oclusão facilmente explicável no repertório mais afinado com as ideias do império, torna-se inquietante nos textos produzidos com o compromisso da denúncia social e coloca em debate a ausência do problema colonial e, consequentemente, dos africanos nas obras do Neorrealismo. Tal invisibilidade foi captada por Luandino que, contudo, não lança explicações superficiais, renunciando com firmeza o jogo da contraposição banal. Ao contrário, ao mergulhar nas águas fundas de um universo convulsionado deixa ver a contradição como traço dominante. Atento aos movimentos da História, ele põe em cena a dureza da experiência dos impasses da vida cortada pela guerra e pelos caminhos trilhados pelos quatro personagens que partilharam a infância nesse pedaço da cidade que o Makulusu inscreve.
Assim, os dilemas e a vivência algo surpreendente de personagens muito variados, coexistindo em mundos segmentados, não são apenas o tema, definindo-se como marcos da estrutura que nos coloca de frente para a profundidade da crise dinamicamente espelhada pela narrativa. O autor recusa-se a uma simples inversão de pontos de vista, conduzindo-nos, de modo muito produtivo, ao desafio de olhar a situação sob o signo da mobilidade, expondo, sem perder a medida do lado que é o seu, as hipóteses da diversidade que o maniqueísmo prefere banir. Nesse movimento, recorre à sobreposição temporal e potencializa a coexistência de tradições, línguas e códigos culturais para trazer à luz a fratura que define as relações sob a dominação colonial. O desejo de ruptura que o afasta deliberadamente da norma lusitana articula-se aos gestos de aproximação com o universo marginalizado pelo poder e o resultado é a construção de uma linguagem centrada no corte, nas elipses, no ritmo de uma sintaxe que evidencia o desconcerto do mundo à volta.
Na consciência do Mais-Velho, estilhaçada pela inviabilidade de um projeto de transformação imerso em tanto sangue, está interditada a sagração de uma mitomania nacionalista, como poderíamos esperar de um livro escrito no espaço do cárcere e na certeza de uma adesão. Aqui encontramos uma das grandes qualidades desse texto: a faculdade de perceber, para além das sombras do ressentimento, os mecanismos que acionam a incomunicabilidade e impedem qualquer hipótese de porosidade entre os seres e mundos marcados por alguma diferença. Converter a diferença em desigualdade era a tônica do sistema colonial, e pode nos parecer lógico que a resposta do combate atualize a proposta de apagar ou desumanizar o diferente. Em Nós, os do Makulusu, porém, a diversidade preenche a narrativa e nos ensina a exercitar outros olhares diante de uma realidade cortada pela perda e pelo irrevogável da morte inerentes à guerra.
O confronto entre a década de 1960 e os nossos dias, sem dúvida, faz desfilar diante de nossos olhos um roteiro de mudanças. Se em Angola, também pela força de atores como Luandino, se pode notar a desnaturalização das barreiras raciais, que era um dos móveis da luta de libertação, sabemos que lá, como em todo o planeta, em nome de tantos deuses, sucedem-se as crises em que a recusa do Outro pode ser causa ou consequência. Os conflitos de natureza étnica em tantos países, o massacre dos refugiados na Europa, as agressões de base religiosa pelo mundo afora, os constantes ataques aos pobres no Brasil são manifestações dessa intolerância que, atentando contra a humanidade dos agredidos, exprimem a desumanidade do agressor. Diante desse panorama, somos tentados a repetir com Carlos Drummond de Andrade: “O mundo não vale o mundo, meu bem.” Como uma gota contra o desalento que daí nos vem, entretanto, vale a pena ler (e reler) Nós, os do Makulusu, e vislumbrar no jogo desgovernado de uma obra fabulosa algum sentido para a literatura. E para a vida. E, desse modo, poderemos compreender também a validade da reedição de um livro como esse.
Trouville / São Paulo, abril de 2019.
Rita Chaves
Professora de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa do
Depto. de Letras Clássicas e Vernáculas (FFLCH-USP), e pesquisadora do
CELP-FFLCH-USP (Centro de Estudos das Literaturas e Culturas de Língua Portuguesa – FFLCH-USP)
Citar como:
O ARTIGO:
CHAVES, Rita “Nós, os do Makulusu – a palavra e o outro”. In: VIEIRA, José Luandino. Nós, os do Makulusu. São Paulo: Kapulana, 2019. [Vozes da África] Disponível em: <https://www.kapulana.com.br/nos-os-do-makulusu-a-palavra-e-o-outro-por-rita-chaves/>
O LIVRO:
VIEIRA, José Luandino. Nós, os do Makulusu. São Paulo: Kapulana, 2019. [Vozes da África]