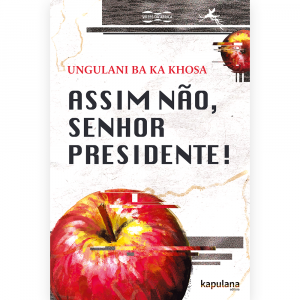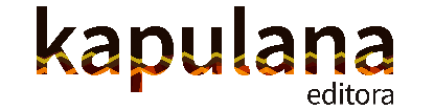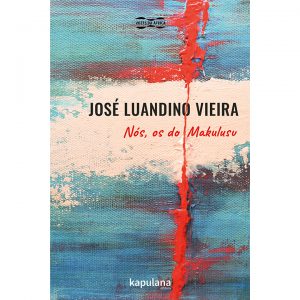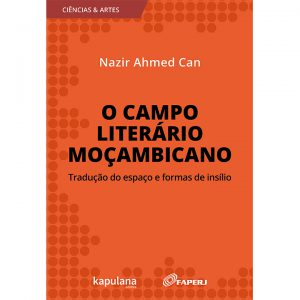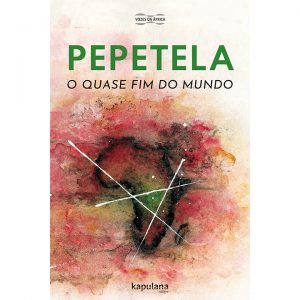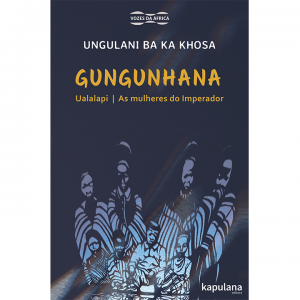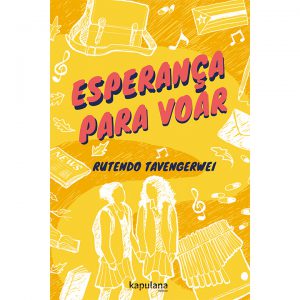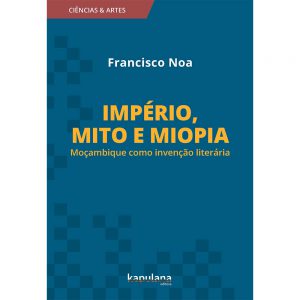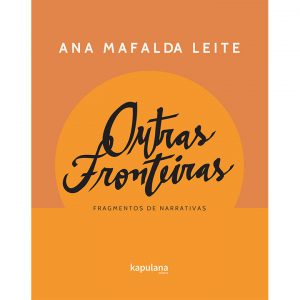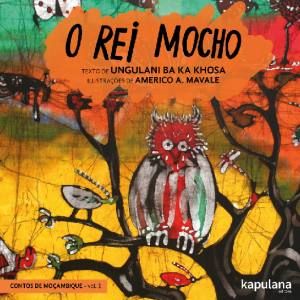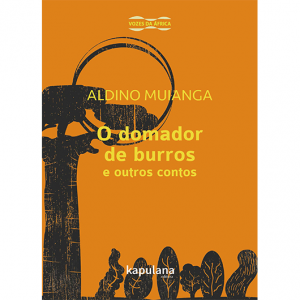O interesse pelas literaturas africanas no Brasil tem sido crescente neste século XXI. Nas universidades e escolas, a pesquisa e o ensino se incrementaram. O meio editorial abriu-se para a publicação de obras africanas e a imprensa tem dado destaque aos autores do continente. Tais fatos certamente estão relacionados com a sanção da Lei 10.639, de janeiro de 2003, responsável por garantir o estudo de história e culturas africanas e afro-brasileira em nossas instituições de ensino. Especialmente nas áreas de artes, letras e história, observa-se, assim, a necessária abordagem de aspectos históricos e culturais dos diversos povos que participaram da formação de nosso país.
Tendo em vista esse cenário, e a partir de nossa área de atuação, preparamos este livro buscando contribuir para o acesso do público brasileiro à produção poética dos países africanos de língua oficial portuguesa. Trata-se do resultado de uma pesquisa desenvolvida desde 2009 que, felizmente, encontra agora espaço para maior divulgação. Para sua realização, agradecemos o apoio das pesquisadoras Simone Caputo Gomes e Tania Macêdo e dos poetas e familiares que gentilmente cederam os direitos autorais dos poemas selecionados.
O ponto de partida do trabalho é o reconhecimento das trocas culturais associadas ao processo de colonização, responsável por aproximar América e África. No campo dos estudos literários, as marcas da presença brasileira na formação das literaturas produzidas nos países africanos colonizados por Portugal foram identificadas já nos anos de 1980, em artigos pioneiros de Maria Aparecida Santilli que apontam para a criação de um patrimônio cultural forjado a partir de um intenso diálogo estabelecido entre brasileiros e africanos.
Esta antologia traz a público poemas que, de alguma maneira, fazem referência ao Brasil ou à cultura brasileira. Desse modo, o conjunto de textos aqui reunidos, organizados por país de origem, permite que sejam conhecidas diferentes dimensões de um diálogo intercultural, favorecendo a visibilidade de algo do Brasil que se fez e se faz presente na África. Ao longo de nossa pesquisa, voltamo-nos para antologias consagradas (como No reino de Caliban, de Manuel Ferreira), antologias recentes (como Poesia africana de língua portuguesa, organizada por Lívia Apa, Arlindo Barbeitos e Maria Alexandre Dáskalos, e Antologia da nova poesia angolana, organizada por Francisco Soares) e livros de autoria individual (no caso de poetas que consideramos manter uma relação de intensa proximidade com o Brasil). Apesar de termos consultado fontes diversificadas, temos consciência de que nosso estudo pode – e deve – ser ampliado, uma vez que não esgotamos as fontes e que o diálogo com o Brasil ainda se mantém vigoroso nos países africanos de língua oficial portuguesa.
Este livro conta com um glossário, contendo tanto termos relacionados ao universo africano e da diáspora africana, como também nomes próprios citados nos poemas. Ao final do volume, uma lista de poemas veicula os resultados mais gerais de nosso estudo, configurando um mapeamento, ainda que parcial, da presença do Brasil na poesia africana de língua portuguesa.
***
Ao longo dos cinco últimos séculos, os laços históricos que aproximaram o Brasil e a África foram, como se sabe, muito fortes. Desde o século XVI, a formação social brasileira foi determinada por relações coloniais e escravistas, que se materializaram a partir da circulação de um grande contingente de pessoas através do Atlântico. Como esclarece Alberto da Costa e Silva,
Há toda uma história do Atlântico. Uma história de disputas comerciais e políticas, de desenvolvimento da navegação e de migrações consentidas e forçadas. Mas há também uma longa e importante história que se vai tornando, aos poucos, menos discreta. A dos africanos libertos e seus filhos, a dos mulatos, cafuzos e brancos que foram ter ao continente africano, retornaram ao Brasil, voltaram à África ou se gastaram a flutuar entre as duas praias. (COSTA e SILVA, 2003, p. 236)
O trânsito intenso estabelecido entre as duas margens do Atlântico favoreceu a constituição de ideias e ideais e a construção de um forte imaginário ancorado em experiências concretas. Alguns dos poemas levantados em nosso mapeamento focalizam justamente o legado brutal, em terras africanas e americanas, das migrações forçadas – o tráfico de pessoas sequestradas para serem escravizadas. Trata-se, então, de lidar com a memória do horror, com o trauma da escravidão. Em poemas como “Epopeia”, do santomense Francisco José Tenreiro, escrito nos anos de 1950, por exemplo, o Brasil é sobretudo o trágico destino dos escravizados.
Já no soneto oitocentista que integra esta antologia, intitulado “O sonho dantesco”, do também santomense Caetano da Costa Alegre, é numa situação amena de leitura que emerge, incompreensível, o evento da escravidão: trata-se da leitura, feita por uma jovem, de “O navio negreiro”, de Castro Alves.
Observamos, assim, dois aspectos do relacionamento da poesia africana de língua portuguesa com o nosso país: 1) temos visibilizada uma história colonial comum, marcada pela escravidão e pelo sofrimento dela decorrente; 2) e encontramos um diálogo literário efetivado por autores que frequentemente encontraram em nossa realidade cultural fonte de inspiração.
Parte da poesia do angolano José da Silva Maia Ferreira marca-se por tais relações literárias. Maia Ferreira estudou no Brasil de 1834 a 1844 e aqui entrou em contato com nossos textos românticos, muitos deles reivindicativos de uma identidade nacional. De volta a Angola, publica em 1849 Espontaneidades da minha alma: às senhoras africanas. Dessa obra, pelo menos dois poemas apresentam relações intertextuais com um texto de Gonçalves Dias, o notório “Canção do exílio” (1843), que ficou célebre na tradição literária brasileira. Trata-se de “À minha terra” e “A minha terra”, que apresentam, além do tema da valorização da terra natal, a métrica e o vocabulário muito próximos do poema de Gonçalves Dias. Vejamos algumas passagens de “À minha terra”, que integra esta antologia:
De leite o mar – lá desponta
Entre as vagas sussurrando
A terra em que cismando
Vejo ao longe branquejar!
É baça e proeminente,
Tem da África o sol ardente,
Que sobre a areia fervente
Vem-me a mente acalentar.
(…)
Bem-vinda sejas ó terra,
Minha terra primorosa,
Despe as galas – que vaidosa
Ante mim queres mostrar:
Mesmo simples teus fulgores,
Os teus montes têm primores,
Que às vezes falam de amores
A quem os sabe adorar!
(…)
Como se vê, o poeta caracteriza a sua terra natal com um entusiasmo relativo, admitindo a simplicidade de seus “fulgores”. Entretanto, já se nota no texto um sentimento nativista, de identificação com o espaço angolano. Nas palavras de Tania Macêdo:
(…) a leitura de “Canção do exílio” realizada pelo autor angolano, que se pode depreender, focalizará sobretudo o “cá”, da terra angolana, deixando na penumbra o “lá”, de onde ele chega [Brasil]. Sob esse particular, o poeta afirma a “singeleza” de sua terra, mas faz questão de apontar que ela tem primores “a quem os sabe adorar”, indicando uma explicitação de sua “pertença”, o que indica a presença de um nativismo nascente. (MACÊDO, 2002, p. 43)
Também no longo poema “A minha terra”, igualmente presente nesta antologia, a ambiguidade se instala, estando o poeta mais uma vez entre a valorização emocionada de sua terra natal e a avaliação de que se trata de um espaço sem os encantos das terras portuguesas e brasileiras e carente de seus grandes vates. Vemos, inclusive, que o sentimento de participação no “mundo português” é forte, cantando-se e louvando-se a valentia dos heróis do império. É interessante perceber que, ao lado de Portugal, o Brasil avulta como um espaço privilegiado, capaz também de causar inveja ao poeta. Trata-se de uma referência explícita ao Brasil independente, de estatuto elevado, confirmando a admiração pelo território já naquela altura liberto do domínio político português.
Décadas mais tarde, já em meados do século XX, chama a atenção a força com que a produção literária brasileira funcionou como uma espécie de estímulo para a produção literária das então colônias portuguesas, constituindo-se como uma referência cultural alternativa às imposições metropolitanas. É certo que a nossa literatura não foi a única a marcar as produções do período. Ecos da poesia escrita pelo norte-americano Langston Hughes, pelo haitiano Jacques Roumain e pelo cubano Nicolás Guillén, por exemplo, estão presentes nos poemas africanos, cujos autores intentavam romper com o cânone oficial. Numa atmosfera intelectual marcada pela Négritude, difundida sobretudo por Aimé Césaire e Senghor, um número importante de escritores africanos de língua portuguesa buscavam – também eles – consolidar uma noção de identidade negra.
Entretanto, ainda que essas referências sejam determinantes, é fato que as experiências e realizações do primeiro modernismo brasileiro e a literatura produzida na década de 1930 deixaram marcas profundas na formação das modernas literaturas africanas de língua portuguesa. Nos espaços então colonizados, a busca pela autonomia literária se deu paralelamente à organização e à luta pela autonomia política. Daí a relevância das propostas do nosso modernismo e da chamada literatura “regionalista”, com sua forte opção pelos excluídos, como modelos inspiradores das transformações que se buscavam no momento da afirmação das identidades nacionais.
A revista angolana Mensagem (1951), cujo lema era “Vamos descobrir Angola!”, a pioneira revista Claridade (1936), em Cabo Verde, e a revista Msaho (1952), em Moçambique, foram espaços de expressão de movimentos literários que, como já havia ocorrido no Brasil, reclamavam uma cultura “autêntica”, enfatizando as realidades locais e as aspirações de liberdade popular. Sobre a forte presença das letras brasileiras em Angola, declara o crítico angolano Costa Andrade em 1963:
Entre a nossa literatura e a vossa, amigos brasileiros, os elos são muito fortes. Experiências semelhantes e influências simultâneas se verificaram. É fácil, ao observador corrente, encontrar Jorge Amado e os seus capitães de areia nos nossos melhores escritores. Drummond de Andrade, Graciliano, Jorge de Lima, Cruz e Sousa, Mário de Andrade e Solano Trindade, Guimarães Rosa, têm uma presença grata e amiga, uma presença de mestres das novas gerações de escritores angolanos. E por isso mesmo, pelo impacto que têm junto do nosso povo, são vetados pelos colonialistas. Eles estão presentes, porém, nas preocupações literárias dos que lutam pela liberdade. (ANDRADE, 1980, p. 26)
Para termos uma dimensão mais exata desse interesse, que toma a forma de um encantamento cultivado por parcela significativa de intelectuais e escritores dos países africanos, evoquemos as enfáticas palavras de outro angolano, Ernesto Lara Filho, presentes em crônica publicada no periódico Notícia (entre 1960 e 1962):
Rubem Braga, o “sabiá” da crônica do Brasil, anda nos nossos recortes literários. Henrique Pongetti é lido por nós, também, Raquel de Queiroz e Nelson Rodrigues, esses tratamo-los por tu. São-nos familiares. Todo o angolano, do Dirico a Cabinda, do Luso ao Lobito, lê o “Cruzeiro”, ri com as piadas de Millôr Fernandes e chora com as reportagens de David Nasser sobre Aida Curi.
Esses são afinal os nossos ídolos. Se pudéssemos votar, muitos de nós, angolanos de nascença, havíamos de ir às urnas depor o nosso voto nas próximas eleições brasileiras, pelo espetacular Jânio Quadros, o Jânio da “Vassoura”. Sabemos quem é Leandro Maciel, Carlos Lacerda, Pascoal Carlos Magno. Sabemos de cor frases como esta: “O petróleo é nosso”. (LARA FILHO, 1990, p. 58)
Em um texto bem mais recente, intitulado “O sertão brasileiro na savana moçambicana” (2005), Mia Couto também reconhece a importância capital do Brasil na formação da literatura moçambicana. Aliás, logo no início de sua reflexão, o escritor narra, de maneira idealizada, numa chave romântica, aquele que teria sido o momento inaugural da poesia em seu país: a união da moçambicana Juliana e do poeta brasileiro desterrado Tomás Antônio Gonzaga e os inúmeros serões ocorridos em sua casa, na Ilha de Moçambique, espaço onde teria florescido o primeiro núcleo de poetas e escritores da então colônia. Depois de evocar esse casamento, espécie de “presságio” de um “entrosamento maior”, continua Mia Couto:
O nascimento da poesia moçambicana está marcado por um encontro que seria bem mais do que um casamento entre duas pessoas. Havia ali uma espécie de presságio daquilo que seria um entrosamento maior que iria prevalecer.
Mais de um século depois, nascia em Moçambique uma corrente de intelectuais ocupados em procurar a moçambicanidade. Já era, então, clara a necessidade de ruptura com Portugal e os modelos europeus. Escritores como Rui de Noronha, Noémia de Souza, Orlando Mendes, Rui Nogar, ensaiavam uma escrita que fosse mais ligada à terra e à gente moçambicana.
Necessitava-se de uma literatura que ajudasse a descoberta e a revelação da terra. Uma vez mais, a poesia brasileira veio em socorro dos moçambicanos (…) os moçambicanos descobriram nesses escritores e poetas a possibilidade de escrever de um outro modo, mais próximo do sotaque da terra, sem cair na tentação do exotismo. (COUTO, 2005, p. 103)
No que diz respeito às relações entre as literaturas do Brasil e de Cabo Verde, é necessário sublinhar o papel decisivo exercido pela literatura social de 1930 na produção de escritores como Baltazar Lopes e Manuel Lopes, ambos vinculados à já referida revista Claridade. A similaridade climática entre o nordeste brasileiro e as ilhas de Cabo Verde favoreceu ainda mais as ressonâncias dos romances regionalistas em textos, de prosa e poesia, que buscavam afirmar a “cabo-verdianidade”. As palavras do poeta Gabriel Mariano, recolhidas por Michel Laban, atestam essa relação:
(…) Foi um alumbramento porque eu lia um Jorge Amado e estava a ver Cabo Verde. De Jorge Amado, o Quincas Berro d’Água, quando eu o li pela primeira vez, a personagem, as características psicológicas da personagem, a reação das pessoas, quando souberam da morte de Quincas Berro d’Água, eu li isso tudo e eu estava a ver a Ilha de São Vicente, Cabo Verde… Estava a ver a Rua de Passá Sabe… (In: LABAN, 1992, p. 331)
Também é bastante significativa a leitura que os autores cabo-verdianos fizeram da poesia de Manuel Bandeira, Jorge de Lima e Ribeiro Couto. Desse conjunto de poetas, Manuel Bandeira se destaca como um interlocutor privilegiado, fazendo-se presente em vários poemas, e não apenas de autores de Cabo Verde. Sua dicção pretensamente simples, a intensa valorização da oralidade e o lirismo de seus poemas certamente seduziram os poetas africanos que lhe dedicaram versos e estabeleceram pontes com a sua poesia.
Exemplar dessas relações é a intertextualidade verificada no conjunto de poemas escritos em diálogo explícito com “Vou-me embora pra Pasárgada” (1930). Como observamos a partir de nosso mapeamento, na série “Itinerário de Pasárgada”, que consta de cinco poemas escritos em 1946 pelo cabo-verdiano Osvaldo Alcântara (pseudônimo de Baltazar Lopes para sua produção poética), o tom oscila do nostálgico ao contestatório, mas afinal o poeta afirma – como no poema brasileiro – a utopia de um futuro desejado. Mais tarde, outro poeta, Ovídio Martins, retomará o tema em seu poema “Anti-evasão” (1974), dessa vez rejeitando a “viagem para Pasárgada” e afirmando a necessidade de permanecer em Cabo Verde para construir um futuro qualitativamente diferente para o país. Na presente antologia, a referência a Manuel Bandeira surge em outro poema cabo-verdiano, bem mais recente, atestando a continuidade desse diálogo intertextual: trata-se de “Os meninos”, da escritora Vera Duarte. Nesse poema em prosa, a interlocução com a poesia de Manuel Bandeira dá-se pela menção, não de sua utópica Pasárgada, mas da sua também muito conhecida “Estrela da Manhã”, igualmente signo de inconformidade.
Podemos notar que a produção africana de língua portuguesa aponta para a permanência da ligação estabelecida entre africanos e brasileiros. De fato, referências a escritores, livros e espaços geográficos e ficcionais do Brasil ainda estão presentes em produções contemporâneas de diferentes autores de ficção e poesia. Em publicações das últimas décadas, além de Manuel Bandeira, escritores como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Cecília Meireles, Manoel de Barros, Raduan Nassar e Adélia Prado têm acolhida marcante. Por exemplo, nos poemas “Drummondiana” e “Metamorfose”, publicados nesta antologia, o poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim trava diálogo explícito com a poesia de Carlos Drummond de Andrade. No primeiro, o título é convite para que se persigam sutis alusões a poemas como “A máquina do mundo” e “A flor e a náusea”; já no impressivo “Metamorfose”, a leitura de Drummond é referida como marco temporal, desdobrando-se a relação intertextual com a alusão ao famoso poema “O sentimento do mundo”. Por fim, em “Poesia verde”, do poeta angolano José Luís Mendonça, também presente nesta antologia, é pela referência ao conhecido verso “no meio do caminho tinha uma pedra” que a intertextualidade com Carlos Drummond de Andrade se estabelece.
Um dos poemas do angolano Ondjaki presente neste livro intitula-se “Chão” e apresenta uma dedicatória que merece destaque: “palavras para manoel de barros”. O nome do poeta brasileiro está grafado em letra minúscula, assim como todas as palavras que compõem o poema. O efeito dessa escolha parece ser o de desautomatizar o uso da língua portuguesa, efeito reforçado pelos neologismos, pelas inversões sintáticas e pelo uso não convencional da pontuação. De viés filosófico, o poema se vale de imagens lúdicas e desconcertantes para expressar o desejo de autoconhecimento, em busca de uma identidade primordial. Trata-se de empreender um inusitado processo de retorno ao reino mineral (areia, barro, chão), numa metamorfose voltada sempre para dentro e para baixo, como se essa involução à terra fosse capaz de revelar uma verdade essencial. Ao “chãonhe-ser-se”, amalgamando-se ao mundo natural, o poeta simultaneamente se mineraliza e se humaniza, num gesto forte e delicado que parece abdicar da artificialidade que, de certo modo, pauta o mundo social. Como se vê, a relação do poema angolano com a poética de Manoel de Barros ultrapassa a singela dedicatória e manifesta-se no próprio fazer poético que atualiza as linhas de força do projeto literário do escritor cuiabano.
Referências à música brasileira também são recorrentes na poesia africana de língua portuguesa. Lembremos do poema “Samba”, datado de 1949, em que a poetisa moçambicana Noémia de Sousa toma esse gênero musical como atestado da presença cultural africana no Brasil, aludindo a um ritmo de histórias entrelaçadas e lutas partilhadas. Referências mais recentes a Tom Jobim, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Roberto Carlos e Milton Nascimento evidenciam a continuidade do interesse pela música brasileira em terras africanas. Destaca-se, nesse sentido, o poema “Setenta e seis”, aqui publicado, do poeta e letrista angolano Carlos Ferreira, em que a familiaridade com “a canção de roberto” é sugerida (numa alusão certa ao cantor Roberto Carlos e ao famoso verso da canção “Baby”, de Caetano Veloso).
O poema “Canção para Milton Nascimento”, do angolano João Melo, é outro exemplo do diálogo da poesia africana com a nossa música. Nos primeiros versos, marcados por assonâncias e aliterações, o poeta evoca as origens africanas do compositor e cantor da nossa Música Popular Brasileira, que se notabilizou por abordar temas como liberdade e solidariedade.
Canção para Milton Nascimento
A lonjura da tua voz não é apenas dos amplos vales de Minas Gerais:
abarca a negra imensidão do oceano azul que em galeras te levou
das praias invadidas do Congo, Ndongo e Benguela,
alcança os planaltos ancestrais
de onde te arrancaram ao coração da terra,
sem suspeitar que na tua voz
ia a alma de todos os homens do mundo.
Na sequência, o texto afirma que na voz de Milton ressoam não apenas instrumentos musicais africanos (ngomas), mas também instrumentos ibéricos e ameríndios, capazes de iluminar “os dilacerados quadris da memória reconstruída”. Trata-se, aqui, não apenas de celebrar a riqueza da heterogeneidade cultural brasileira, que ganha materialidade no trabalho do compositor, mas, sobretudo, de sublinhar a dimensão trágica de uma história, assentada no colonialismo e na escravidão, cuja memória se encontra em processo de reconstrução. Por isso, como bem revelam os versos finais, a voz de Milton nem sempre é alegre e ele precisa de coragem para “cantar sozinho no meio da escuridão”.
É importante considerar que não apenas a poesia, mas também a prosa africana de língua portuguesa tem mantido diálogo fecundo com o Brasil. Alguns ficcionistas destacam, em entrevistas e ensaios, a importância do contato com, por exemplo, a escrita de João Guimarães Rosa, como os angolanos Luandino Vieira e Ruy Duarte de Carvalho (este, também importante poeta) e o já mencionado escritor moçambicano Mia Couto. Ruy Duarte de Carvalho, em seu livro Desmedida, de 2006, relata:
Quando aí por 1965, numa tabacaria da Gabela, interior do Kwanza-Sul, dei encontro com o Grande sertão: veredas em edição, a 5ª parece-me, da Livraria José Olympio, o facto foi, de fato e de várias maneiras, muito importante na minha vida. Foi um daqueles livros que vêm, literalmente, ao nosso encontro (…). (…) Defrontei-me então muito arduamente com as primeiras páginas do Grande sertão e deixei-me depois entrar naquilo para tornar-me, a partir daí e até agora, um leitor compulsivo, permanente e perpétuo, de Guimarães Rosa. (…)
Mas para o que talvez possa interessar agora, eu estava a encontrar ali, finalmente, um tipo de escrita e de ficção adequadas à geografia e à substância humana que eu andava então, técnico da Junta do Café, a frequentar e a fazer-me delas por Angola afora. (…) E nas paisagens que Guimarães Rosa me descrevia, eu estava a reconhecer aquelas que tinha por familiares. Já porque de natureza a mesma que muitas paisagens de Angola – e em algumas das paisagens de Angola eu reconhecia aquelas, enquanto o lia – já porque a gente que ele tratava, gente de matos e de grotas, de roças e capinzais, era também em Angola aquela com quem durante muitos anos andei a lidar pela via do ofício de viver. (CARVALHO, 2006, p. 85-86)
A leitura de Grande sertão: veredas, na década de 1960, chamou a atenção de Ruy Duarte de Carvalho, gerando uma sensação de familiaridade. E as semelhanças entre as paisagens e as gentes do Brasil e Angola são aspectos que ele viria a explorar em obras futuras, como no próprio livro Desmedida, aqui citado.
Nesta antologia, contudo, dedicada apenas à poesia, o diálogo entre prosadores, tão intenso, não é explorado. Por essa razão, do conjunto da obra escrita por Ruy Duarte de Carvalho, o texto que está presente em nosso levantamento é o poema intitulado “Fala de um brasileiro ao capitão-mor Lopo Soares de Lasso”, de 1974, que traz justamente a fala (ficcional) de um brasileiro do século XVII em terras angolanas. Esse poema evidencia antigos laços entre Angola e Brasil, dando voz a um brasileiro que abandona projetos de conquista e escolhe seguir novo – e próprio – rumo na nova terra (Angola), tendo, agora, conhecido “as muitas coisas boas”, “sabida outra maneira de aqui estar”. Para os leitores da prosa de Ruy Duarte de Carvalho, o destino desse brasileiro ecoa o de alguns de seus personagens, como o inglês Archibald Perkings (protagonista de Os papéis do inglês), Severo (protagonista de As paisagens propícias) e o próprio autor ficcionalizado (narrador-personagem dos romances da trilogia Os filhos de Próspero, cujo primeiro volume, o já mencionado Os papéis do inglês, está publicado no Brasil).
Podemos perceber diferentes formas de impacto da prosa sobre a poesia, e mesmo encontrar a homenagem, na forma de poema, a prosadores brasileiros. No conjunto desta antologia, chama especial atenção, nesse sentido, o “Poema a Jorge Amado”, de Noémia de Sousa. Vejamos sua estrofe inicial:
O cais…
O cais é um cais como muitos cais do mundo…
As estrelas também são iguais
às que se acendem nas noites baianas
de mistério e macumba…
(Que importa, afinal, que as gentes sejam moçambicanas
ou brasileiras, brancas ou negras?)
Jorge Amado, vem!
Aqui, nesta povoação africana
o povo é o mesmo também
é irmão do povo marinheiro da Baía,
companheiro de Jorge Amado,
amigo do povo, da justiça e da liberdade!
(…)
Os versos de Noémia de Sousa, de 1949, estabelecem uma identificação plena entre Moçambique e Brasil (Bahia), sublinhando elementos que aproximariam os dois espaços (cais, estrelas, povo). Numa perspectiva humanista, que se constrói para além da nacionalidade e cor da pele “(Que importa, afinal, que as gentes sejam moçambicanas/ ou brasileiras, brancas ou negras?)”, o texto propõe o estabelecimento de uma rede solidária entre “as gentes”, pautada em valores como justiça e liberdade, dos quais Jorge Amado seria o porta-voz. Ao convocar a presença companheira do escritor baiano em terras moçambicanas, a poetisa expressa uma utopia libertária, enraizada na cultura popular, que naquele contexto funcionava simultaneamente como crítica à presença colonialista e aspiração de independência política.
O veemente combate à brutal configuração de um sujeito racial nos processos coloniais é traço marcante da poesia de Noémia de Sousa. A luta que se propõe é de todos, sem discriminação, uma luta contra qualquer forma de racialização – em sintonia, assim, com proposições recentes, como as do filósofo camaronês Achille Mbembe (pensamos especialmente em Crítica da razão negra, publicado no Brasil em 2018). A questão racial nos leva, contudo, a lidar com uma referência bem mais antiga: a do lusotropicalismo defendido pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, que celebrava no Brasil uma espécie de espaço exemplar de liberdade e democracia racial. Lembremos que sua obra magna, Casa Grande e senzala, publicada em 1933, impactou fortemente não apenas a intelectualidade brasileira, mas também intelectuais portugueses e africanos dos países que então eram colônias de Portugal. Outros livros, como O mundo que o português criou (1940) e Aventura e rotina (1953), serão centrais para a difusão do lusotropicalismo. Para Fernando Arenas,
As bases teóricas do que seria o lusotropicalismo estender-se-ão eventualmente a praticamente todo o império colonial português a partir de uma série de conferências proferidas [por Gilberto Freyre] na Europa em 1937 e reunidas na obra O mundo que o português criou (1940), onde se exalta a miscigenação e a mestiçagem, sobretudo relativamente ao Brasil, embora projetando-se para o resto do império. (ARENAS, 2010)
Entre 1951 e 1952, Gilberto Freyre foi convidado pelo governo português para viajar pelas terras do império. É preciso lembrar que após a Segunda Grande Guerra tornou-se internacionalmente mais difundida a condenação de regimes de natureza colonial. O governo de Salazar – ditador português de 1928 a 1968 – recorre, então, ao lusotropicalismo freyriano para reformular sua ideologia colonial, apelando para a ideia do “bom colono português”. Com a apropriação salazarista do pensamento do sociólogo brasileiro na década de 1950, nota-se o afastamento, por parte de muitos escritores e intelectuais africanos, das teses lusotropicalistas de Freyre. O poema “Presença de Gilberto Freyre”, do caboverdiano Guilherme Rocheteau, publicado em 1951, evidencia, contudo, a força do lusotropicalismo nos países africanos de língua oficial portuguesa ainda no início da década de 1950, especialmente em Cabo Verde.
É importante destacar que, em nossa perspectiva, na poesia de Noémia de Sousa não há, de modo algum, negação ou suavização da violência colonial portuguesa. O “Poema de João”, presente nesta antologia, denuncia justamente sua brutalidade, afirmando também a força da resistência. Mais uma vez, Achille Mbembe vem a nosso auxílio. No já citado Crítica da razão negra, Mbembe sugere haver traços de um imaginário cristão em discursos e práticas de combate à escravidão e ao colonialismo. No poema de Noémia de Sousa, a morte violenta é vencida pela ressurreição simbólica: ao invés de morto, João ressurge vivo no seio do povo, tornando-se uma espécie de mártir. O “Poema de João” pode, nesse sentido, ser comparado ao romance A vida verdadeira de Domingos Xavier, de Luandino Vieira, cujo protagonista constrói-se sob o signo do sacrifício (de 1961, este livro foi censurado e só veio a ser publicado em 1974).
A questão racial recoloca-se, com contundência, nos textos “Poema preto de fome” e “A cor da Humanidade”, de José Luís Mendonça, também aqui publicados. No primeiro, talvez algo do devir-negro proposto por Mbembe se delineie. Para o filósofo, a exploração capitalista, que remonta à escravidão nas plantations das Américas, implica a invenção do “negro” como destituído de humanidade plena. Contudo, Mbembe afirma também que aqueles que assim se viram brutalmente tratados reafirmaram sua condição humana invertendo o rótulo “negro” em chave afirmativa. Sinais de tal duplicidade aparecem no poema de José Luís Mendonça, em que o signo “preto” remete tanto à condição de vítima histórica como à força da resistência daqueles que lutaram e lutam contra a violência e a exploração.
No poema “A cor da Humanidade” é a própria farsa do rótulo racial que se vê denunciada. Como em “A viagem profana”, do moçambicano Nelson Saúte, estamos diante de um sujeito em deslocamento, uma espécie de sujeito global ou globalizado. Contudo, no poema de Saúte, tal sujeito se configura numa chave subjetiva, trata-se de um viajante apaixonado que traça suas afinidades eletivas, suas preferências tanto literárias como espaciais (ocupando, o Brasil, lugar afetivo privilegiado). Já no poema de Mendonça, configura-se um sujeito coletivo que parece implicar todo aquele que possa ser estigmatizado, apanhado na armadilha da racialização. Se o mundo se oferece com generosidade ao poeta em “A viagem profana”, no poema angolano toma a forma do impedimento, arma-se contra o sujeito. Assim, em “A cor da Humanidade”, a onipresença das categorias raciais é problematizada, afirmando-se, com Martin Luther King e Nelson Mandela, a inalienável condição humana de toda pessoa.
***
Como apontamos inicialmente, este trabalho busca visibilizar as trocas culturais que aproximaram – e ainda aproximam – o Brasil e os países africanos de língua oficial portuguesa, ao longo de séculos de uma história de entrelaçamentos. No diálogo poético estabelecido desde o século XIX até a contemporaneidade, capaz de aproximar as duas margens do Atlântico, a solidariedade e a criatividade emergem como marcas efetivas da aproximação estabelecida.
O conjunto de poemas reunidos em nosso mapeamento, ponto de partida da presente antologia, aponta para representações diversas: há poemas que apenas mencionam o Brasil, entre outros países do continente americano, como destino de africanos escravizados; há poemas que estabelecem alguma relação intertextual com obras da literatura brasileira; outros enaltecem o Brasil, desde uma perspectiva idealizada, por vezes até mesmo exotizante ou turística; há aqueles que se referem com admiração a personalidades brasileiras (escritores, compositores, intelectuais etc.); há, ainda, poemas que mencionam a opressão – e a resistência a formas de opressão – dos negros no Brasil. Como se vê, de maneira múltipla, o Brasil se faz presente.
Dessa maneira, como conclusão parcial, podemos reter que, por vezes, o Brasil é rememorado na poesia africana como destino de brutal tráfico humano (com destaque para poemas do período colonial); e, outras, imaginado como espaço utópico de liberdade política e harmonia racial (imbuindo-se, então, de traços do lusotropicalismo freyriano); de modo geral, nosso país emerge como um território cúmplice, de onde emanam vozes capazes de compreender e se irmanar com realidades sociais e culturais percebidas a partir de uma óptica comparatista.
Entendemos que os textos levantados sugerem que, seja no profícuo diálogo literário, seja na menção a traços da cultura brasileira veiculada em terras africanas, seja ainda no recurso a uma memória colonial comum de assombrosa violência e na afirmação de resistência (o negro que luta, na África e nas Américas, contra o racismo, por exemplo), o Brasil está fortemente presente no repertório poético africano de língua portuguesa.
Trata-se de uma presença viva, de um diálogo em curso, como atestam os textos de escritores que, em publicações recentes, continuam a mencionar nosso país. Nos poemas selecionados de autores contemporâneos, as referências ao Brasil, sua paisagem e sua cultura – nomeadamente nos campos da literatura e da música – demonstram que o país ainda ocupa um espaço privilegiado no imaginário dos autores africanos. Há certamente muito ainda a descobrir. Os poemas reunidos por nós não esgotam a questão dos trânsitos culturais entre o Brasil e os países africanos de língua oficial portuguesa. Ao contrário, esta seleção pretende abrir caminhos e instigar o estudo de aspectos da presença do Brasil nas literaturas africanas de língua portuguesa, inclusive a investigação de novas formas e possibilidades de diálogo.
Referências:
ANDRADE, Costa. Literatura angolana (opiniões). Lisboa: Edições 70, 1980.
ARENAS, Fernando. “Reverberações lusotropicais: Gilberto Freyre em África”. In: Buala – Cultura Contemporânea Africana, 2010. Acessível em: http://www.buala.org/pt/a-ler/reverberacoes-lusotropicais-gilberto-freyre-em-africa-1-cabo-verde
CARVALHO, Ruy Duarte de. Desmedida: crônicas do Brasil (Luanda – São Paulo – São Francisco e volta). Lisboa: Cotovia, 2006.
COSTA e SILVA, Alberto da. Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na África. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Editora UFRJ, 2003.
COUTO, Mia. Pensatempos: textos de opinião. Lisboa/Maputo: Editorial Ndjira, 2005.
LABAN, Michel. Cabo Verde. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1992.
LARA Filho, Ernesto. Crônicas da roda gigante. Porto: Afrontamento, 1990.
MACÊDO, Tania. Angola e Brasil: estudos comparados. São Paulo: Editora Arte e Ciência, 2002.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: Edições N-1, 2018.
São Paulo, janeiro de 2019.
Anita M. R. de Moraes é Doutora em Teoria e História Literária pela Universidade de Campinas (Unicamp), com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e Professora de Teoria da Literatura na Universidade Federal Fluminense (UFF).
Vima Lia de Rossi Martin é Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) e Professora de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa na mesma instituição (FFLCH-USP).
Citar como:
O ARTIGO:
MORAES, Anita M. R.; MARTIN, Vima L. R. “O Brasil e a poesia africana de língua portuguesa: perspectivas de leitura “. Posfácio. In. MORAES, Anita M. R.; MARTIN, Vima L. R. O Brasil na poesia africana de língua portuguesa: antologia. São Paulo: Kapulana, 2019.[Vozes da África] Disponível em: <https://www.kapulana.com.br/o-brasil-e-a-poesia-africana-de-lingua-portuguesa-perspectivas-de-leitura/>
O LIVRO:
MORAES, Anita M. R.; MARTIN, Vima L. R. O Brasil na poesia africana de língua portuguesa: antologia. São Paulo: Kapulana, 2019. [Vozes da África]