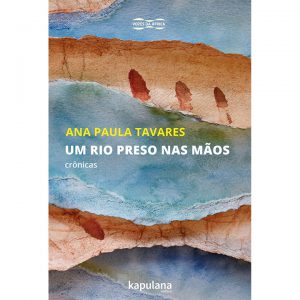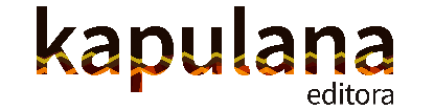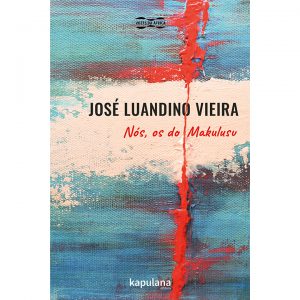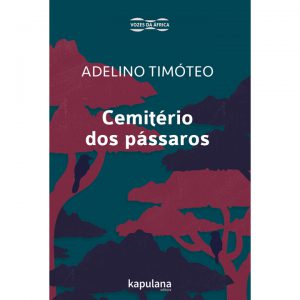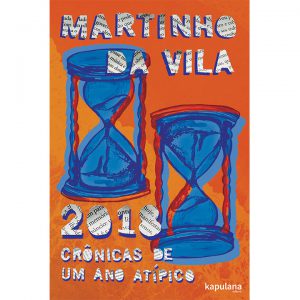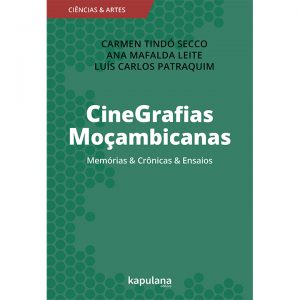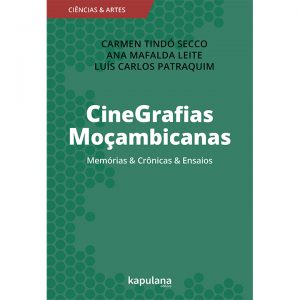
Este livro resultou de trabalho conjunto, apoiado por tríplice parceria: entre Carmen Tindó Secco, Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Ana Mafalda Leite, Professora da Universidade de Lisboa; e Luís Carlos Patraquim, um dos fundadores do cinema moçambicano, cuja participação foi fundamental pelo amplo (re)conhecimento da(na) área.
É decorrência, também, de trocas e diálogos entre os projetos “Literatura, Cinema e Afeto: figurações e tramas da história em escritas literárias e fílmicas de Moçambique e Guiné-Bissau” (coordenado por Carmen Lucia Tindó Secco, apoiado pelo CNPq e FAPERJ) e “NEVIS – Narrativas Escritas e Visuais da Nação Pós-Colonial” e “NILUS – Narrativas do Oceano Índico no Espaço Lusófono” (coordenados por Ana Mafalda Leite, com apoio da FCT), cujas ações têm possibilitado produtivo intercâmbio cultural entre Brasil, Portugal e Moçambique.
A ideia da publicação de entrevistas com realizadores de Moçambique surgiu em razão de ser ainda escassa a bibliografia a respeito do cinema moçambicano e, também, por não haver mais, atualmente, em Moçambique, uma política cultural de valorização de festivais cinematográficos, como ocorria, há alguns anos, com o Dockanema que, durante várias edições, promoveu a divulgação de filmes, debates e oficinas.
Como o cinema, no período logo após a independência, foi fundamental à construção da nação moçambicana, e, ainda hoje, continua a ser um dos meios importantes de preservar a memória do país e pensar Moçambique e o mundo, consideramos ser um significativo contributo a recolha de opiniões não só de antigos e reconhecidos realizadores moçambicanos, como também de representantes das jovens gerações. Decidimos, então, reunir, no livro, entrevistas, ensaios, crônicas[1] de realizadores e de estudiosos da área, com o intuito de registrar não só a trajetória passada do cinema moçambicano, mas também reflexões acerca das condições e do papel deste no presente.
Cada vez mais, entrevistas são utilizadas, metodologicamente, como rico instrumento de pesquisa, capaz de propiciar entrelaces interdisciplinares e interartísticos. Em literatura e história, é comum entrevistar poetas, escritores. Também no âmbito cinematográfico, entrevistas a cineastas e realizadores são usadas como fontes que permitem a criação de “arquivos vivos” que captam visões pessoais e memórias subjetivas dos entrevistados acerca de seus filmes, de seus posicionamentos ideológicos sobre contextos históricos, políticos e sociais vivenciados. A relevância das entrevistas reside em possibilitar a exteriorização de pontos de vista diferentes, assim como questionamentos e interpretações críticas a respeito de momentos controversos da história.
A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de interpretação informativa (…); pode também servir à pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação. Em todos estes ou outros usos das Ciências Humanas, constitui sempre um meio, cujo fim é o inter-relacionamento humano.[2]
Quatro das entrevistas que compõem este livro – as de Licínio Azevedo, Sol de Carvalho, João Ribeiro e Yara Costa – foram respondidas, livremente, por escrito, a partir de perguntas formuladas pelos organizadores. A de Ruy Guerra foi realizada pessoalmente por Olivier Hadouchi e Vavy Pacheco Borges, em Paris, em 2012; já as de Isabel Noronha e Camilo de Sousa foram gravadas, durante uma conversa informal, por Ana Mafalda Leite, em Lisboa, em 2017.
A escolha dos realizadores entrevistados deveu-se, por uma lado, à representatividade de cada um e, por outro, ao fato de terem aceitado nosso convite. Alguns nomes importantes relacionados ao cinema moçambicano – como o de Pedro Pimenta, Gabriel Mondlane, José Luís Cabaço, Ungulani Ba Ka Khosa, entre outros – e o de Diana Manhiça – atual presidente do projeto do Museu do Cinema Moçambicano – também foram contatados, mas, infelizmente, por motivos vários, não responderam às entrevistas.
CineGrafias Moçambicanas: Memórias & Crônicas & Ensaios se estrutura em quatro partes, antes das quais, com a intenção de despertar a curiosidade dos leitores e instigar a leitura, foram inseridas imagens sugestivas: uma foto do velho prédio do cinema Império localizado em Maputo, fotografias de Camilo de Sousa e Isabel Noronha em antigas gravações e cenas representativas de filmes produzidos pelos realizadores entrevistados neste livro.
A primeira parte é constituída por dois ensaios: o de Guido Convents, que traça um panorama do cinema colonial moçambicano, evidenciando como este encontrava-se a serviço da propaganda do império português, e o de Luís Carlos Patraquim que reflete sobre o cinema moçambicano da pós-independência.
A segunda congrega entrevistas de realizadores incontornáveis, entre os quais: Ruy Guerra, Camilo de Sousa, Licínio Azevedo, Isabel Noronha, Sol de Carvalho, João Ribeiro, Yara Costa.
A terceira é constituída por crônicas de Ruy Guerra, Licínio Azevedo, Luís Carlos Patraquim, Sol de Carvalho e Isabel Noronha. Esta parte, a nosso ver, é de grande originalidade, uma vez que desvela os bastidores das filmagens, ou seja, o avesso das aventuras vivenciadas durante as gravações dos filmes por alguns dos realizadores.
Fechando o livro, a quarta parte contém dois ensaios: o de Júlio Machado, que analisa o filme Mueda, memória e massacre, de Ruy Guerra, marco do cinema moçambicano, e o de Ute Fendler, que investiga a presença do “fantástico” como uma das tendências existentes na filmografia moçambicana. Esta última seção é breve, contudo enriquecedora, na medida em que descortina um viés crítico, sugerindo a importância de estudos acerca de temáticas e filmes representativos do cinema moçambicano.
Das entrevistas obtidas depreende-se, de modo geral, que o cinema cumpriu a urgência de narrar a nação moçambicana, chamando atenção para questões de poder que marcaram profundamente a história de Moçambique – o colonialismo, a guerra, a miséria, a violência –, mas também apontando para a necessidade de revisitação de valores e traços africanos silenciados e para as múltiplas diversidades culturais, sociais, religiosas presentes em Moçambique e no continente africano.
Na entrevista de Ruy Guerra, desponta seu olhar de cineasta sempre atento às relações de poder, um olhar que põe em cena contradições sociais internas a serem repensadas criticamente. Em sua entrevista, Ruy enfatiza que são fortes as relações entre cinema e política; relembra, com seu humor crítico, algumas vivências relacionadas a filmagens por ele realizadas, entre as quais se encontram passagens especiais de sua parceria com Gabriel García Márquez, Chico Buarque, entre outros.
Camilo de Sousa, por sua vez, relembra sua infância na Mafalala; denuncia, nessa época, a ostensiva opressão colonial e o racismo; recorda sua tia Noémia de Sousa, sua relação com Ruy Guerra; fala sobre seus filmes. Isabel Noronha, em sua entrevista, narra suas experiências e aventuras de filmagem, relata a importância do surgimento do cinema moçambicano, a fundação e o fechamento do Instituto Nacional do Cinema em Moçambique. Com uma visão bastante lúcida e sensível, comenta que em seus filmes busca narrar histórias de pessoas que foram silenciadas. Mas observa que, para filmar “essas histórias privadas, é preciso encontrar o dispositivo certo para contornar ou quebrar a questão do silêncio político, que foi sendo e ainda é imposto”.
Licínio Azevedo, com respostas curtas e objetivas, criticamente, sintetiza a significação do cinema moçambicano, que, em sua opinião, representa “o próprio país, pois Moçambique é hoje a nação que o cinema ajudou a construir”. Sol de Carvalho, detalhadamente, avalia o importante papel do “Kuxa Kanema” em Moçambique; narra suas experiências de filmagem; fala da criação da produtora PROMARTE e comenta suas adaptações de textos literários para o cinema.
João Ribeiro também relaciona o nascimento do cinema moçambicano à construção da nação, observando que a descolonização do olhar tem sido uma espécie de clichê que persegue, em geral, o cineasta africano. Porém, enfatiza que, quando faz um filme, procura criar algo novo ou suficientemente forte para manter o suspense e surpreender o espectador. Para ele, fundamentais são as histórias contadas, as mensagens passadas, construídas de forma estética inovadora.
Já a realizadora Yara Costa critica a falta de investimentos em cinema atualmente em Moçambique e afirma ser muito difícil a realização de filmes moçambicanos, pois os apoios financeiros são quase inexistentes. Explana a respeito de seus filmes, entre os quais Entre Eu e Deus, que versa sobre a escolha radical de uma religião feita por uma jovem, num contexto de violência e intolerância religiosa.
Se as entrevistas deste livro são elementos fundamentais para a história do cinema moçambicano, as crônicas vêm acrescentar uma dimensão criativa e espetacular ao ofício dos realizadores, bem como uma tensão de reenquadramento da memória, entre outros aspectos. Com efeito, a noção de crônica, como lembra David Arrigucci[3], pressupõe a noção de tempo, presente no próprio termo, que procede do grego, chronos. É uma escrita que tece a continuidade do gesto humano na tela do tempo, que implica lembrar e escrever, relato em permanente relação com a temporalidade de onde retira a memória, enquanto sua matéria principal.
No caso dos dois textos de Sol de Carvalho, que situam alguns episódios na rodagem do seu último filme Mabata Mbata, deparamo-nos em especial com uma reflexão sobre o cinema africano e algumas das contradições existentes entre cinema pedagógico e dimensão estética, em que o realizador evoca palavras de Godard, quando o cineasta francês esteve em Moçambique, lembrando como ele considerava África como um mundo imaginário carregado de símbolos, imagens e representações, que constituem o enorme reservatório de criação de cinema inovador e, ao mesmo tempo, próximo dos seus destinatários.
Já as crônicas de Luís Carlos Patraquim retomam a posição instável e lúdica da crônica, entre jornalismo e literatura. O tempo dos leopardos situa criticamente uma época da história e do engajamento ideológico do cinema em Moçambique e narra o trabalho conjunto com Licínio de Azevedo, enquanto guionistas. A crônica “A Revolução dos Outros” evoca o encontro com a figura do realizador francês Jean-Luc Godard no Hotel Tivoli num sábado de 1978, perfazendo uma narrativa de memória pessoal e simultaneamente histórica, com a evocação das peregrinações utópicas e revolucionárias de várias figuras do cinema internacional, que por essa época passaram em Moçambique. É o caso de Florestano Vancini que esteve no Instituto Nacional de Cinema para falar da cinematografia italiana, ou de Med Hondo, da Mauritânia, que realizou um filme sobre o Sahara Ocidental – Teremos a morte para dormir – com produção moçambicana e estreia mundial em Maputo, ou ainda de Ruy Guerra com o projeto para o cinema móvel e com a realização do filme Mueda, memória e massacre. As crônicas de Patraquim, num estilo lírico-coloquial, reconfiguram historicamente a importância destes vários encontros com personalidades internacionais no quadro do cinema moçambicano, dimensão que veio também a ser documentada no filme de Margarida Cardoso, Kuxa Kanema: o nascimento do cinema (2003).
As cinco crônicas de Isabel Noronha e de Licínio de Azevedo percorrem também uma dimensão autobiográfica, mas enquanto ligação umbilical ao início dos seus percursos pessoais na entrada do mundo do cinema em Moçambique, aliando um registro histórico ao estórico, criando uma ponte de excelência entre a literatura e a história.
A primeira crônica de Isabel Noronha, “Quadro perdido, quadro partido, quadro reenquadrado – Uma das infinitas estórias do Cinema Moçambicano”, bem como “A Chegada”, de Licínio de Azevedo fazem essa travessia das estórias pessoais, quase em jeito de autoficção, para uma outra história, um outro quadro maior, agora reconfigurado, reenquadrado. A escrita dos dois realizadores confirma uma das características da crônica enquanto gênero compósito, capaz de gerir múltiplas componentes do relato: dimensão dramática, lírica, cômica. Como o próprio Licínio explica: “Mais do que uma reportagem objetiva, nós, também, procurávamos contar uma história, com personagens e ação. Falo disto porque é algo que depois foi importante para mim quando transitei para o cinema, e do documentário para a ficção, criando uma ponte entre ambos os gêneros.” E o realizador vai contando como a experiência de jornalista se reformulou no guionismo e foi, aos poucos, caminhando para a realização, passando do Instituto de Cinema para o Instituto de Comunicação Social, numa época com poucos recursos humanos e técnicos existentes em Moçambique, em que a opção de gênero cinematográfico a ser desenvolvido foi necessariamente o documentário.
No caso de Licínio de Azevedo a sua escrita é quase um exercício brechtiano, em que a reduplicação do sujeito enquanto espectador crítico e rememorativo de si próprio procura expor de forma simples, e por vezes bem-humorada, alguns aspectos da estrutura técnica do seu próprio processo compositivo. As suas crônicas mostram também a sua vertente de escritor, o gosto pelo enredo, pelas pequenas estórias ocorridas na realização dos seus documentários e filmes, em anotação quase diarística. Licínio respeita a relação com o mundo das crenças e espiritualidades, e nele mergulha para escrever e filmar, criando uma tensão criativa entre o mundo real e o mundo imaginário. Como ele afirma:
Para mim um documentário pode nascer de uma pequena notícia publicada na imprensa. Ler jornais diariamente é um hábito que adquiri lá atrás e não abandonei: um “fait divers”, a mulher agredida pelo marido, uma disputa entre vizinhos… Qualquer notícia, por mais banal que seja, pode transformar-se num bom documentário, se tratarmos o assunto da maneira correta, com respeito pelos seus protagonistas, pelas tragédias vividas pelos outros. Por vezes, um fragmento de um documentário inspira e dá lugar, anos mais tarde, a uma longa-metragem de ficção.
As crônicas de Licínio de Azevedo complementam de forma iluminante o estudo de filmes como Desobediência, A árvore dos antepassados, Virgem Margarida, Comboio de sal e açúcar, ou dos documentários Tchuma Tchato, Mariana e a Lua. Trazem as estórias e trilhos do processo, desvendam as peripécias dos vários momentos que acompanham a realização, à maneira de intermediações entre ator e plateia, como o coro do teatro grego, mostrando o processo que levou ao produto final dos seus filmes e docuficções.
Isabel Noronha perfaz também ao longo das cinco crônicas, aqui publicadas, uma cronologia de vida, desde o momento em que entra para o Instituto de Cinema, à sua experiência de trabalho e aprendizagem (“Caminhos do Ser”, “Sagrada Arrufada”), e saliento aqui, no quadro da guerra civil, muito especialmente a crônica “Satanhoco” que evoca, em termos de uma escrita dramática, a vivência de risco de todos aqueles que participavam nas filmagens de Kuxa Kanema. Nota-se na escrita de Isabel Noronha uma inflexão lírico-pessoal, uma subjetividade crítica muito intensa e simultaneamente tensa. A escritora, que Isabel Noronha também é, além de realizadora, revela-se muito especialmente com sua última crônica “O Pintor”, em que a crônica assume o esplendor da poesia, ao mesmo tempo que acompanha de forma muito sutil a origem e a realização do seu filme Ngwenya, o crocodilo (2007):
Toda a manhã, os olhares, guardados atrás das paredes de caniço, espreitariam ansiosos o cessar da chuva que, inclemente, devolvia à terra cada gesto desse estranho homem que dedicara a sua vida a colecionar pedaços vivos de luz para costurar com eles a camisa de retalhos com que cobria o seu peito, onde precocemente se tinham alojado todas as sombras da floresta.
Recuando no tempo, as crônicas de Ruy Guerra organizam-se em duas partes, as três primeiras publicadas em 1949, em Lourenço Marques, mostram o despontar do gosto do realizador pelo cinema e pela escrita, fazendo uma espécie de visitação do passado do artista enquanto jovem aprendiz. A primeira crônica “Foi assim que morreu o Bobby, o cãozinho de pelos de arame” é uma narrativa fabular, que faz lembrar, ainda que desfocadamente, Nós matamos o Cão Tinhoso!, de Luís Bernardo Honwana, e de imediato nos apela para o sentido de dependência e de liberdade e para as diferenças sociais e de sofrimento dos seres vagabundos e abandonados. Um cão da rua, sem raça, nem dono, sem nome, sobre quem Ruy escreve e se demora a caracterizar, mostrando talvez, de forma indireta, as conflitualidades latentes da sociedade colonial. Uma outra crônica “Utilidades e perigos do Cinema na formação do caráter da juventude” reflete sobre a importância do cinema e da literatura e os prejuízos do cinema comercial na formação intelectual dos jovens. Por outro lado, as duas últimas crônicas de 1997, escritas no Brasil, quase meio século depois, tratam da experiência cinéfila do realizador:
(…) ao longo da vida fui devorando vorazmente filme após filme, me alimentando de imagens, em preto e branco, coloridas, mudas, sonoras. E o meu conhecimento do mundo deve muito a essas vidas que passei nas salas escuras, os olhos fixos na tela, onde pessoas e coisas desfilavam diante de mim emoções que me foram moldando naquilo que sou.
Em “A imagem e o horror”, Ruy Guerra questiona o poder da imagem numa época em que a tecnologia nos leva para a virtualização e “em que o espetáculo toma frequentemente o lugar da realidade e se confunde com ela”. Por último, relata a sua experiência de conhecimento de Max Ophuls, quando ainda era estudante de cinema em Paris, deixando-nos mais um traço da memória do seu percurso de vida, em que a diversidade de contatos e internacionalização certamente vieram a contribuir para o transformar, no futuro, no marco do cinema, que ele é.
No último momento deste livro, fazemos a transição das crônicas dos realizadores para uma pequena seção de estudo crítico, em que se apresentam dois ensaios sobre cinema moçambicano, em que o leitor poderá aprofundar uma dimensão teórico-crítica sobre o cinema deste país. O primeiro ensaio, mais monográfico, intitula-se “Da fotografia ao teatro, da retórica à poética: reflexões sobre Mueda, memória e massacre, de Ruy Guerra”, de Júlio Cesar Machado de Paula, e mostra o caráter simultaneamente documental e ficcional do filme, ao mesmo tempo que discute a interpenetração entre as dimensões histórica e estética, considerando que o filme seja visto e debatido como parte da memória viva de Moçambique.
O segundo ensaio da autoria de Ute Fendler, “O Cinema Moçambicano – Um Cinema Fantástico?”, é mais abrangente e analisa a importante e comum dimensão do fantástico na filmografia moçambicana, considerando que o “fantástico” faz parte integral da própria visão de mundo africana. Neste sentido, a especialista afirma que, quando os cineastas utilizam elementos “sobrenaturais” ou “maravilhosos”, estes fazem parte do processo narrativo, criando um mundo imaginado, simultaneamente fictício e verdadeiro, levando os espectadores “a sonhar a realidade, em versões e variações intermináveis”.
18 de abril de 2019.
Os organizadores
- Carmen Tindó Secco – Professora Titular de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), ensaísta e pesquisadora do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).
- Ana Mafalda Leite – Docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com Mestrado em Literaturas Brasileira e Africanas de Língua Portuguesa e Doutora em Literaturas Africanas. Professora Associada com Agregação na Universidade de Lisboa, pesquisadora do ISEG do Cesa, com bolsa da FCT.
- Luís Carlos Patraquim – Jornalista, roteirista, pesquisador sobre cinema moçambicano. Autor de vasta obra publicada em prosa, poesia e teatro.
[1] Todas as informações contidas nas entrevistas, ensaios e crônicas são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.
[2] MEDINA, Cremilda de Araújo. Entrevista: O diálogo possível. São Paulo: Ática, 2002, p. 8.
[3] ARRIGUCCI, David. Enigma e comentário. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p.51. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018.
Citar como:
O ARTIGO:
SECCO, C. T.; LEITE, A. M.; PATRAQUIM, L. C. “Apresentação”. CineGrafias Moçambicanas: Memórias & Crônicas & Ensaios. São Paulo: Kapulana, 2019. [Ciências e Artes]. Disponível em: <https://www.kapulana.com.br/cinegrafias-mocambicanas-memorias-cronicas-ensaios-apresentacao-por-carmen-t-secco-ana-mafalda-leite-e-luis-carlos-patraquim/>
O LIVRO:
CineGrafias Moçambicanas: Memórias & Crônicas & Ensaios. São Paulo: Kapulana, 2019. [Ciências e Artes]